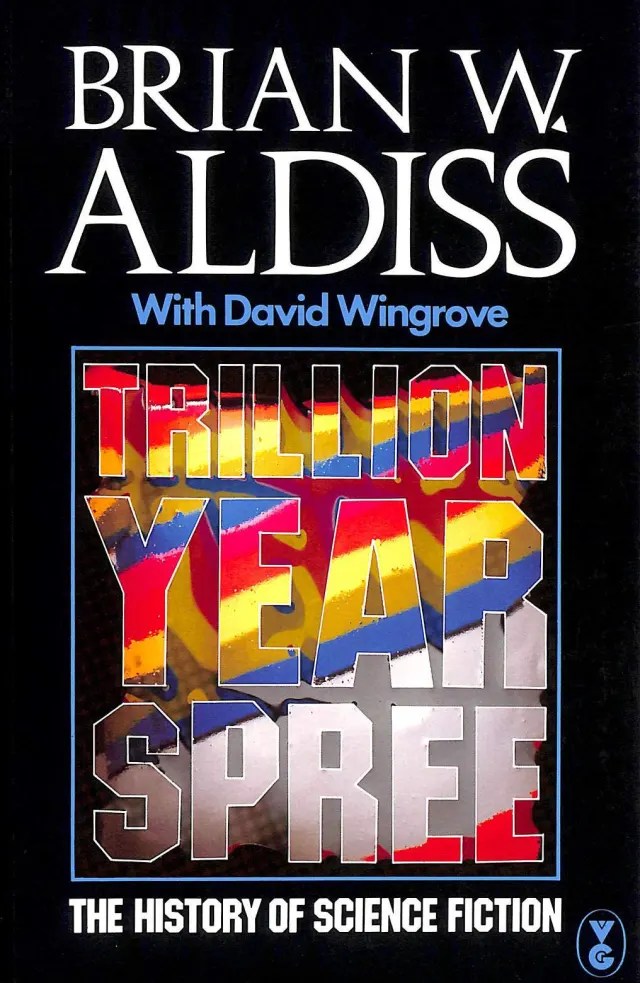Uma história não se faz apenas com fatos e datas; esse é o método positivista, pelo qual a minha geração aprendeu na escola um desfile interminável de acontecimentos e nomes, sem que lhe fossem fornecidos elementos de reflexão para o contexto. Foi assim que aprendi, entre outras coisas, que em 1964 aconteceu no Brasil uma revolução. Mas era a década de 1970, e ainda estávamos no olho do furacão dos hoje chamados (com razão) Anos de Chumbo. Só anos depois eu viria a saber que na verdade a tal revolução havia sido de fato um golpe, e também tomei conhecimento das torturas (e conhecer pessoas que foram torturadas, mas esta é outra história), e entendi que os atores políticos desempenhavam papeis bem diferentes daqueles atribuídos pela história oficial.
Por que começo o post assim? Porque a História, assim mesmo com H maiúsculo, não é uma ciência exata, e também não é neutra. Com relação à ficção científica ocorre o mesmo. Desde o começo do gênero – e é aí que a coisa fica complicada, porque até hoje não se consegue apontar com absoluta precisão quando o gênero nasceu. Segundo Brian Aldiss, em seu seminal Trillion Year Spree, publicado em meados dos anos 1980, o marco inicial do gênero seria Frankenstein, de Mary Shelley, publicado em 1818. Os pesquisadores brasileiros de um modo geral ainda concordam com isso, mas os britânicos hoje em dia tendem a apontar O Mundo Resplandecente, de Margaret Cavendish, de 1666, como a gênese do que hoje entendemos como ficção científica. Mas a verdade, no duro, no duro, é que ninguém sabe.
E qual é a verdade, afinal?
Existem muitas histórias da ficção científica. A mais conhecida é justamente a narrativa de caráter positivista, muito usada por leitores em geral, fãs e influenciadores ligados ao gênero, que simplesmente elenca nomes, datas e obras, sem contexto ou com um mínimo de contexto, com repetições de dados sobre as quais muitas vezes os repetidores não têm maior conhecimento para fazer uma análise.
Mas já começam a surgir no Brasil uma série de grupos de pesquisa ligados de alguma forma à ficção científica que propõem novas narrativas, todas elas válidas enquanto correntes que se complementam. Existem grupos ligados às utopias e distopias, ao fantástico, a um novo movimento denominado fantasismo, e também a uma visão mais tradicional da ficção científica. No meu grupo, o Observatório do Futuro, ligado ao Departamento de Comunicação da PUC-SP, acolhemos todas essas narrativas e acrescentamos mais um olhar: o decolonial. Anos atrás, criei um curso chamado Ficção Científica no Campo Político, primeiro presencial, depois online em modo síncrono e hoje assíncrono no site Hotmart, onde explorei essa narrativa, a saber: do que realmente tratava (e em certa medida ainda trata) a ficção cientifica mais conhecida, a anglo-americana, não só em termos de conteúdo, mas em termos de quem a fazia? Afinal, eram só homens cis hetero brancos, ou foi isso o que nos levaram a crer com o passar do tempo?
Ao longo desse curso, examinei os apagamentos, tanto de mulheres (a quantidade de autoras que sempre existiram e que hoje foram relegadas ao esquecimento é assustadoramente grande) quanto de pessoas negras (não só como autores mas como personagens) e LGBTQ+. Por que fiz isso? Não foi para colocar em dúvida a qualidade do trabalho dos homens brancos, mas porque eles já têm essa qualidade como garantida por seu privilégio. É examinando esse privilégio que podemos construir uma história mais inclusiva da ficção científica, não só na esfera anglo-americana (que ao fim e ao cabo será o foco destes posts, porque também eu como leitor e fã tive minha formação com as obras criadas nesse mercado), como também em outros países, como por exemplo China, Índia, Nigéria e Palestina, sem deixar de fora a América Latina e, claro, o Brasil.
Então, como escrever uma história da ficção científica desde 1926 (como eu me propus a fazer no post zero desta série), a partir de um termo criado por questões mercadológicas e inicialmente restrito aos EUA mas que em pouco tempo assumiu uma dimensão tão grande a ponto de tomar de assalto o resto do mundo? Lembrando que o mesmo aconteceu com o rock, nascido nos EUA e exportado para o resto do planeta, onde sofreu adaptações e transmutações em vários estilos e subgêneros, e que de algumas décadas para cá teve finalmente a influência do blues negro reconhecida e – isto é importante – aceita pelos brancos que ainda dominam o meio, tanto na execução quanto na pesquisa teórica. Como todos os pesquisadores sérios apontam, a ficção científica teve precursores fantásticos praticamente em todo o planeta séculos antes.
Num evento no Rio de Janeiro em 1988, Charles N. Brown (criador e então editor da Locus Magazine, a Publishers Weekly do mercado da literatura fantástica), o escritor Frederik Pohl e a pesquisadora Elizabeth Anne Hull afirmaram que, em todos os países onde haviam estado durante aquele tour (particularmente na América Latina e na África), ficaram sabendo que existiam muitos precursores da ficção científica – ficaram sabendo é a expressão mais adequada, visto que nos países em questão todos conheciam esses autores. Só os estadunidenses, claro, não os conheciam, pois eles criaram a sua própria versão dessa história, que exclui e apaga, muitas vezes sem intenção. Mas também sem grande interesse de descobrir o que existe para além de suas fronteiras. (O que está mudando bastante nos últimos anos, mas isso é assunto para outro post.)
Não deixa de ser interessante, entretanto, que o criador, ou melhor dizendo, o fomentador da ficção científica como a conhecemos tenha sido um estrangeiro em terras americanas. Hugo Gernsback nasceu no minúsculo Luxemburgo, um país com uma área de 2.586 km2 (isso não chega ao dobro do território do município de São Paulo, só para fins de comparação), emigrou em 1904 para os Estados Unidos, com vinte anos de idade, criou uma das primeiras emissoras de rádio dos EUA em 1925 e no ano seguinte, já tendo publicado diversas revistas ligadas a vários campos da ciência, de engenharia elétrica a sexologia (foi dele a primeira revista sobre o assunto nos EUA), resolveu criar uma revista de divulgação científica por intermédio da ficção – algo para o qual ele já tinha até um neologismo: scientifiction.
Apesar da palavra diferente e bem moderna para os padrões da época, Gernsback de algum modo deve ter sentido que o termo não caiu no gosto dos leitores, pois algumas edições depois retificou o termo e o batizou com seu nome mais conhecido: science fiction.
Volta e meia leitores e influenciadores do gênero apontam que o termo science fiction já existia antes, e é verdade. Essas duas palavras teriam sido reunidas numa expressão pela primeira vez quase um século antes de Gernsback, em 1851, pelo poeta e editor William Wilson, em seu livro A Little Earnest Book upon a Great Old Subject: With the Story of the Poet-Lover. O termo (que na época era hifenizado, Science-Fiction) foi usado por Wilson num trecho em que ele declarava sua crença de que as descobertas da ciência poderiam trazer algo novo e vital para a literatura:
. . . “A ficção na poesia não é o reverso da verdade, mas a sua semelhança suave e encantadora.” Ora, isto se aplica à science fiction [grifo nosso], na qual as verdades reveladas da ciência podem ser dadas, entrelaçadas com uma história agradável que pode ser poética e verdadeira – circulando assim um conhecimento da Poesia da Ciência, vestida com uma roupagem da Poesia da Vida.
Brian Stableford compara essa afirmação ao editorial de Gernsback sobre sua proposta e conclui que elas se parecem bastante:
“…com um romance encantador mesclado com fatos científicos e visão profética”, que sua ficção seria uma “vestimenta para tornar mais atraentes ‘as revelações de uma imaginação racional’.”
Contudo, não se sabe se Gernsback leu Wilson ou se simplesmente os dois chegaram à mesma conclusão, o que parece bastante aceitável. Na verdade, é de se espantar que mais pessoas não tivessem chegado a essa conclusão. E aí entra o pensamento decolonial, com o seguinte questionamento: e se outras pessoas em outros países não-anglófonos EFETIVAMENTE chegaram à mesma conclusão, em virtude da Revolução Industrial, mas essas conclusões foram ignoradas ou até mesmo aceitas na época mas esquecidas pouco depois por se tratarem de pensamentos advindos da periferia dos impérios (e posteriormente do capitalismo)? Sabemos que autores brasileiros do século como João do Rio e Machado de Assis se aventuraram pelo território do fantástico e também mencionaram as novas tecnologias de suas épocas, seja elogiando-a ou a ironizando. Mais sobre isso em outro post.
Bibliografia deste capítulo:
ALDISS, Brian, WINGROVE, David. Trillion Year Spree: The History of Science Fiction. Londres: Gollancz, 1986.
STABLEFORD, Brian. Opening Minds: Essays on Fantastic Literature. San Bernardino: Borgo Press, 2007.