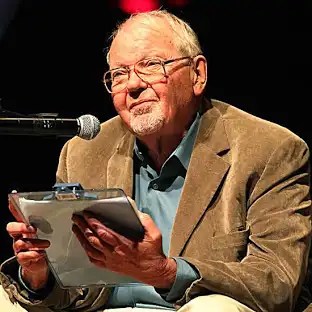Rjurik Davidson
Tradução de Fábio Fernandes
“O Rei está morto, viva o Rei!” Esta antiga frase francesa, datada pelo menos do século XV, é do tipo que poderia ter levado Fredric Jameson a uma de suas análises extensas, lânguidas, alternadamente densas e divertidas, intelectualmente exigentes. Crítico cultural proeminente do marxismo durante mais de cinquenta anos, Jameson foi o principal defensor do pensamento dialético, no qual se demonstrou que dois fenômenos aparentemente contraditórios estavam unidos por alguma lógica subjacente. Neste modo, as camadas da aparência poderiam ser reformuladas como uma unidade de essência. Com origem em Georg Hegel, evidente no jovem Marx, é talvez o filósofo e crítico húngaro Georg Lukács que se destaca como o antepassado mais evidente de Jameson. A influência aqui não é simplesmente intelectual, mas estilística. Inerente é a crença de que a forma de comunicação é constitutiva do seu conteúdo: a maneira como você escreve algo é essencial para o que está sendo escrito. Desta forma, Jameson poderia implantar sistemas de pensamento aparentemente irredutivelmente antitéticos e antinômicos – estruturalismo e pós-estruturalismo, psicanálise freudiana e existencialismo sartriano, quadrados greimasianos e discursos DeManianos – e colidi-los em uma única e mesma peça. Indiscutivelmente, esta técnica dança ao longo de um penhasco perigoso: o risco de dissolver antinomias reais, produzindo um ecletismo em vez de integração em qualquer “totalidade” coerente. Seria esta apenas uma forma sofisticada de justificar a utilização de qualquer sistema ou abordagem antiga? Se esse fosse o risco, a recompensa seriam análises de uma originalidade impressionante, muitas vezes sem paralelo.
A obra de Jameson é muito abrangente, exaustivamente rica e multifacetada, para que qualquer indivíduo possa avaliá-lo completamente. Quem está qualificado para avaliar as suas extensas críticas ao realismo literário, ao modernismo e à ficção científica? Quem pode julgar a sua tipologia da cultura pós-moderna – inspirada no Late Capitalism ardio de Ernest Mandel e viajando da arquitetura às imagens caleidoscópicas da era digital – e ao mesmo tempo pesar os seus resumos da teoria literária marxista, que o lançaram internacionalmente, desde o seu magistral Marxismo e Forma (1971) ao seu trabalho final, uma pesquisa do pensamento intelectual francês, The Years of Theory: Postwar French Thought to the Present (2024)? Mal escrevo estas linhas, descubro que outro livro surgiu este ano sobre o romance contemporâneo durante a crise da globalização. Jameson escreveu mais rápido do que eu conseguia lê-lo.
O que mais distinguiu a abordagem de Jameson foi a interação de dois níveis: o económico e o cultural. O pós-modernismo foi, portanto, a lógica cultural do “Capitalismo Tardio”: uma incessante mercantilização da cultura e cultura da mercadoria. No capitalismo tardio, comprava-se não apenas um produto, mas uma imagem, um estilo de vida, uma visão do mundo, uma ideologia, uma narrativa antiga, cada uma tipicamente uma reprodução de uma forma mais antiga, devolvendo não uma paródia, mas um pastiche. Nesta cultura, não se compra simplesmente sapatos, compra-se este tipo de sapato, que conota esta coisa sobre si mesmo e, portanto, sobre você. Nike ou Adidas? Um deles é usado pelo maior jogador de basquete de todos os tempos; um deles foi cantado pelo Run DMC. Ferrari ou Red Bull? Um te dará asas. PC ou Apple? Nesta cultura mercantilizada, cada reprodução torna-se cada vez mais desvinculada do seu referente original, esvaziando a história do novo produto: cada uma é como uma folha de papel que foi fotocopiada e reorganizada tantas vezes que o original é indecifrável. Essa era a cultura do shopping, a imagem piscante, primeiro da televisão e depois do computador. A década de 1980 estava se transformando em um presente de ficção científica, que Jameson estava diagnosticando.
Talvez a representação que definiu essa cultura na mídia visual tenha sido Blade Runner (1982), de Ridley Scott, baseado em um dos muitos interesses literários de Jameson, a obra do grande escritor de ficção científica Philip K. Dick. Uma espécie de representação cinematográfica do movimento cyberpunk, onde rebeldes solitários manobravam por ruas labirínticas e multiculturais – pense nas combinações de Tóquio e Los Angeles noir, nas caminhadas dos Hare Krishna e nas filas de monges passando sob letreiros de néon, tudo colocado nas sombras de lugares sem rosto. corporações globais. Blade Runner capturou os interesses duradouros da cultura: quem somos nós num mundo dividido entre a “gentinha” e a megacorporação que pode não apenas possuir você, mas pode ter construído você, construindo até mesmo suas memórias? O que é ser humano? A fuga é para “fora do mundo”, onde nem você nem eu podemos nos dar ao luxo de ir. A natureza se foi deste mundo – pelo menos nas versões do filme antes dos testes de tela sugerirem um final alternativo (permitindo uma série de relançamentos, de “cortes do diretor”, eles próprios modos típicos ou reembalando um filme para maior consumo, maior penetração de mercado, maior reciclagem da mercadoria novamente). A ficção científica foi o gênero através do qual me envolvi pela primeira vez com Jameson (que supervisionou o doutorado de Kim Stanley Robinson sobre Philip K. Dick antes de Stan se tornar ele próprio um grande socialista da ficção científica). Arqueologias do Futuro: O Desejo Chamado Utopia e Outras Ficções Científicas de Jameson – cujo argumento central ele explicou em Melbourne em 2005 para seu lançamento – é uma das obras definidoras de um campo que atrai particularmente os marxistas. Tanto a ficção científica como os marxistas têm um interesse particular no futuro; ambos normalmente afirmam que é improvável que seja simplesmente mais do mesmo, o capitalismo versão 2.0 e depois 2.1 e depois 2.2. Algo tem que ceder. Utopia ou distopia, socialismo ou barbárie?
Para Jameson, porém, a utopia era impensável. Esta afirmação discutível pode estar relacionada com o nível que falta no seu arsenal teórico – o político. O seu livro de 1981, O Inconsciente Político: A Narrativa como Ato Socialmente Simbólico, é um trabalho notável, mas impressionante pela sua falta de qualquer interrogação sustentada do político, apesar do seu título, que alguns podem considerar uma questão de propaganda enganosa. Esta categoria faltante do político – no sentido da sua própria esfera autônoma – é sintomática de uma questão mais ampla. Pois o hegelianismo de Jameson emergiu no contexto da esquerda americana na década de 1950 e depois na Nova Esquerda da década de 1960, uma explosão radical cujo radicalismo recuperado ocorreu numa paisagem, nas palavras do colega luminar marxista Terry Eagleton, “sem o ímpeto ou o consolo de um movimento militante da classe trabalhadora”. Tendo viajado para França e Alemanha na década de 1950, quando o existencialismo estava no seu auge, Jameson regressou rapidamente aos EUA onde, apesar do aumento da atividade grevista durante a década de 1960, o radicalismo foi definido de forma mais central pelos movimentos sociais – direitos civis, libertação das mulheres, direitos de gays e lésbicas, guerra anti-Vietnã – e uma militância estudantil que nunca chegou a forjar uma aliança prometida entre estudantes e trabalhadores.
As influências europeias dominantes nesta geração de radicais (combinadas com a corrente americana de Thoreau e Emerson) foram a escola de Frankfurt, que tinha ido para a América para escapar aos horrores do fascismo (embora o seu membro mais talentoso, Walter Benjamin, tenha tirado a própria vida na fronteira franco-espanhola, depois de ter sua entrada temporariamente recusada). Nascido neste clima intelectual, o hegelianismo de Jameson foi solidamente fundamentado em Marxismo e Forma: Teorias Dialéticas da Literatura do Século XX, de 1971, que examinou principalmente esta corrente da Escola de Frankfurt: o trabalho de T.W. Adorno e Benjamin, Ernst Bloch e Herbert Marcuse, Lukács e Jean-Paul Sartre (sua primeira monografia foi Sartre – As Origens do Estilo, de 1961). Na década de 1980, Eagleton podia afirmar que os “conceitos políticos dominantes de Jameson, herdados de Lukács e da escola de Frankfurt, são os da reificação e da mercantilização”. O que estava faltando aqui? Ausente nas suas primeiras fases estava o impacto do estruturalismo althusseriano ou do pensamento Gramsciano – ambos os quais contribuíram para teorias da literatura e da cultura a partir de perspectivas poderosamente diferentes da escola de Frankfurt. Quando estes atravessaram o Atlântico nas décadas de 1970 e 1980, a formação intelectual de Jameson estava efetivamente completa. Sua extensão seria doravante fora de uma posição estabelecida. Assim, se os interesses de Jameson se estendiam à arte e ao pensamento do Oriente e do Sul, às novas teorias com as quais se envolveu e integrou, tudo isto ocorreu no quadro hegeliano-lukácsiano. Esta forma de marxismo era para Jameson um “horizonte intransponível”. Foi Ernest Mandel, o economista, que despertou a imaginação de Jameson para teorizar o pós-moderno, e não Ernest Mandel, o crítico do eurocomunismo, o defensor de Lenin e Trotski, cujo Marxismo Revolucionário Hoje se envolveu em questões como o duplo poder, os movimentos radicais e o partido político, as instituições. do Estado. E assim, os críticos têm razão em perguntar: será que “o político” neste nível – como uma esfera relativamente autónoma – não formou também coordenadas-chave para a cultura e a estética? E esta influência política não faz da cultura e da literatura também um lugar de conflito, um campo de batalha de atitudes, em que os filmes de Ken Loach de Michael Moore se chocam ideologicamente com os de Clint Eastwood ou Dinesh D’Souza? A arte não se reduz à política , claro; nem é independente disso.
Jameson parece nunca ter confrontado adequadamente esta lacuna do “político”. Pelo contrário, foi teorizado e justificado no seu livro sobre o pós-modernismo (Perry Anderson observa esta dinâmica em The Origins of Postmodernity). Talvez o argumento seja retomado num dos trabalhos mais recentes de Jameson – aqui alego ignorância e aponto um tanto envergonhado para a prolificidade de Jameson. Mas se não, e isto é mais provável, o silêncio me parece a face dialética dos pontos fortes indubitáveis de Jameson: um exame sustentado e incessante das interrelações entre economia e estética. O silêncio de um lado é proporcional à realização do outro – de uma forma verdadeiramente dialética que Jameson poderia aprovar. À reificação, à mercantilização e à totalidade, deveríamos, portanto, acrescentar a contradição como uma categoria jamesoniana decisiva. E assim é que “O Rei está Morto, Viva o Rei!” não é apenas uma reminiscência do pensamento e estilo de Jameson, mas também um epigrama apropriado para uma despedida. Jameson, mestre da crítica cultural, morreu em 22 de setembro de 2024. Sua obra vivera ainda por muito tempo.
(Traduzido com autorização do autor. O original pode ser lido aqui.)